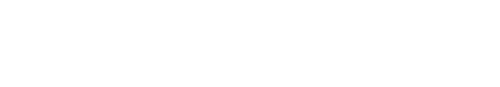Contribuições do pensamento decolonial à psicologia política
Descrição
|
|
Criado por Cecília Andrade
aproximadamente 4 anos atrás
|
|
Resumo de Recurso
Página 1
Uma perspectiva contra-hegemônica tem sido desenvolvida por um pensamento crítico denominado decolonial. combate a uma visão de sujeito que, ao pretender-se neutra, posiciona-se majoritariamente ao lado do discurso colonial hegemônico Dessa forma, a concepção disseminada sobre esse assunto aponta para a Modernidade como o complexo de eventos que levou o homem europeu a uma nova vivência da própria identidade e, em interação dialética com essa transformação, houve a constituição das Ciências Humanas e, no final do século XIX, da Psicologia a partir do florescimento econômico e cultural, traduzido pelo Renascimento, e do desenvolvimento intelectual, apresentado, sobretudo pelo Iluminismo, surgiu a subjetividade moderna, as ciências modernas - com centro no humano - e a problemática moderna em torno da identidade e de sua representação Trata-se de perspectivas que se destacam por falar sobre e a partir da margem, a partir do lugar do Outro - essa alteridade que é definida politicamente em oposição a um sujeito hegemônico detentor do poder de autorrepresentar-se e representar a diferença. Ler Fanon e Bhabha Importantes vozes como as de Bhabha (1989, 1991, 2007), Spivak (2010), Dussel (1994; 2000) e Mignolo (2000; 2005) vêm defender a descolonização nas estratégicas de produção do conhecimento e nos modos contemporâneos de subjetivação. Desconstruir a matriz colonial significa "enfatizar outras maneiras de contar a história, outras formas de organização da vida e dos saberes, bem como a produção de novas subjetividades que não carreguem a herança dos padrões coloniais de poder que seguem vigentes na sociedade". a colonialidade do poder (Quijano, 2002), como uma matriz de inteligibilidade cultural e epistemológica, consolidou o desenvolvimento das Ciências Humanas, como atualmente as conhecemos, e assim uma determinada representação de ser humano foi produzida. É inegável a contribuição que tais argumentos podem trazer para a Psicologia, principalmente (ou particularmente) para a Psicologia Política, no combate a uma visão do sujeito que, ao pretender-se neutra e científica, pode se posicionar politicamente no lugar do discurso hegemônico. Década de 80, sobretudo no âmbito da crítica literária na Inglaterra e nos EUA, o início de escritos que buscavam combater essencialismos derivados da situação colonial Spivak3 (2010) chamou a atenção acadêmica internacional principalmente a partir de seu ensaio Pode o subalterno falar?, publicado pela primeira vez em 1988. Por se tratar de um texto-chave em seu trabalho, nos centraremos nele para discutir algumas de suas ideias. Spivak tece uma digressão sobre a confusão que Foucault e Deleuze fazem com o termo representação. Europa, na figura inclusive de seus intelectuais, se constituiu historicamente enquanto Sujeito, colocando o resto, o mundo subdesenvolvido e subjugado como seu Outro. O autor analisa as dimensões textuais do processo de enunciação da cultura como um locus de articulação e negociação entre subjetividades posicionadas discursivamente. E qual é a consequência desses argumentos para compreendermos como as concepções de identidade e subjetividade são postas na contemporaneidade? Em primeiro lugar, não podemos entendê-las de forma rígida, dadas a priori, em uma estrutura pré-discursiva e ahistórica. Identidades já não mais representam o princípio de não contradição, em que o indivíduo unificado e dotado de racionalidade era idêntico a si mesmo; são, de outro modo, posições de sujeitos que apresentam determinadas condições de existência na sociedade. Nesse sentido, Bhabha considera mais apropriado falar em identificações, e não identidades, uma vez que se trata de um processo contínuo que não permite essencialismos. Da mesma forma, a subjetividade não deve ser pensada como algo individualizante, mas como um processo com base em construções discursivas e materiais, que são constantemente negociadas. Para esse autor, a sequência histórica Grécia-Roma-Europa é uma invenção ideológica do Romantismo alemão do século XIX (Dussel, 2000). Na época do império Romano, este se configurava como o Ocidente (que falava latim) deum Oriente do qual faziam parte a Grécia e a Ásia, impérios helenistas que falavam grego. Nesse momento, não havia Europa como conceito relevante. Também o império bizantino, ligado ao império romano, era acossado por muçulmanos, que ocupavam grandes extensões de terra, do Marrocos até as Filipinas. De fato, o período entre os séculos V e XII foi de auge e supremacia da civilização muçulmana, e a região da Europa não representava mais do que um extremo ocidente marginalizado Durante o período denominado medieval, a Europa ainda era periférica e se apresentava como a margem ocidental do resto do mundo muçulmano em destaque. Tanto Grécia quanto o Império Romano foram híbridos culturais com forte influência árabe. A despeito disso, no entanto, forjou-se um esquema ideológico segundo o qual o ocidente é fruto da união direta entre as culturas grega, latina e cristã, organizadas temporalmente numa sequência linear e sem desvios, quase teleológica. No entanto, a modernidade não seria possível sem sua outra face, uma face obscura e omitida pelo relato tradicionalmente eurocêntrico da história: a colonialidade A violência e a negação do Outro exercidas na América Latina explicitam o duplo caráter da Modernidade: internamente, ela representa o triunfo da racionalidade frente aos incivilizados e compõe o que Dussel chama de falácia desenvolvimentista; externamente, ela representa o ápice da irracionalidade, na violência injustificável cometida contra o Outro indígena e africano. O estabelecimento de um ideal de ser humano - do sexo masculino, branco, cristão, heterossexual, possuidor de renda, culto - forjou, ao mesmo tempo, o seu oposto, o seu outro.É nesse sentido que Castro-Gómez fala da invenção do outro, aquele que não se encaixava no ideal de ser humano da modernidade (europeia) e deveria, por isso, ser civilizado: o negro, o índio, o asiático, a mulher, os integrantes das classes populares, os homossexuais (Castro-Gómez, 2000). Também esse autor ressalta a importância de deixar claro que o Estado moderno, ou a modernidade na Europa, não deve ser entendida separadamente do colonialismo, uma vez que este, associado aos benefícios econômicos, possibilitou igualmente o necessário estabelecimento de diferenças entre o colonizador e o colonizado, o bem e o mal, o certo e o errado, o sagrado e o pagão/profano, trazendo consigo a justificativa para a colonização como ato civilizatório. Também esse autor ressalta a importância de deixar claro que o Estado moderno, ou a modernidade na Europa, não deve ser entendida separadamente do colonialismo, uma vez que este, associado aos benefícios econômicos, possibilitou igualmente o necessário estabelecimento de diferenças entre o colonizador e o colonizado, o bem e o mal, o certo e o errado, o sagrado e o pagão/profano, trazendo consigo a justificativa para a colonização como ato civilizatório. Segundo Santos (2007), pode-se dizer que o que houve nesses países foi não só um genocídio, mas também um epistemicídio, uma vez que os saberes dos povos não brancos foram taxados de ignorantes, primitivos, supersticiosos, e foram relegados ao esquecimento. Esse ataque a seus saberes se refletiu igualmente em sua constituição identitária, pois se traduziu em uma internalização, pelo não branco, da superioridade da civilização branca. Tal condição o fez, em grande medida, aceitar e até mesmo desejar internalizar tais valores - tidos como inquestionavelmente corretos -, ao mesmo tempo em que havia uma negação de si como não branco, como possuidor de outra cultura.
Quer criar suas próprias Notas gratuitas com a GoConqr? Saiba mais.